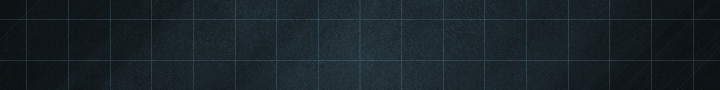Fernando Faria
Por muito tempo, foi aceito no Brasil que uma mesma conduta pudesse gerar punições simultâneas em diferentes frentes: na Justiça criminal, na esfera cível e na via administrativa. Essa fragmentação, amparada na ideia da chamada “independência das instâncias”, autorizava que o Estado, por meio de órgãos distintos, processasse e sancionasse uma mesma pessoa repetidas vezes, ainda que com base nos mesmos fatos e nas mesmas provas.
A justificativa era formal: cada instância teria finalidades distintas e, por isso, poderia agir autonomamente. No entanto, essa tese, erguida sob a aparência da tecnicidade, vem sendo crescentemente contestada por juristas, legisladores e pelos próprios tribunais superiores, que denunciam os riscos desse modelo para a integridade do sistema de justiça e para os direitos fundamentais.
Hoje, começa a ganhar força uma visão mais coerente: a de que o Estado não pode multiplicar punições com base em uma única narrativa fática. Quando uma pessoa é absolvida na esfera penal por inexistência do fato, negativa de autoria ou ausência de provas, parece não apenas irrazoável — mas abertamente injusto — que continue sendo processada em ações cíveis ou administrativas amparadas exatamente no mesmo conjunto probatório. Além de fragilizar a segurança jurídica, esse tipo de perseguição múltipla cria um ambiente de insegurança e desgaste psicológico, financeiro e institucional para o jurisdicionado.
Um passo relevante rumo a esse novo paradigma foi dado com a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, em 2021. A nova redação do art. 21, §4º, da Lei 8.429/92, trazida pela Lei 14.230/21, estabeleceu que a absolvição penal repercute diretamente nas demais instâncias sancionatórias, impedindo o prosseguimento de ações civis ou administrativas quando assentada, na esfera penal, a inexistência do fato, a negativa de autoria, a ausência de tipicidade ou a insuficiência de provas.
Ainda que sua eficácia esteja momentaneamente suspensa por decisão cautelar proferida pelo STF na ADI 7236, a regra acima citada permanece em vigor e representa um claro vetor normativo em favor da coerência decisional e da unidade do Direito. Sua suspensão não equivale à declaração de inconstitucionalidade, tampouco neutraliza seu valor como critério hermenêutico legítimo.
Essa inflexão normativa encontra respaldo cada vez maior na jurisprudência dos tribunais superiores. O STJ, por exemplo, decidiu no RHC 173.448/DF que a absolvição por ausência de dolo em ação de improbidade administrativa retira a justa causa para a correspondente ação penal, justamente por compartilharem o mesmo arcabouço probatório. Já o STF, ao julgar a Reclamação 41.557, determinou o trancamento de uma ação civil pública após a Justiça Criminal ter reconhecido a inexistência do fato. O eminente Ministro Gilmar Mendes, relator da decisão, com o senso de justiça que lhe é peculiar, foi taxativo: “círculos concêntricos de ilicitude não podem levar a uma dupla persecução e, consequentemente, a uma dupla punição”.
Assiste inteira razão ao nobre juiz constitucional, a multiplicação persecutória em esferas supostamente
autônomas, quando baseada na mesma substância fática, viola o núcleo do devido processo legal substancial e transforma o sistema sancionador em um labirinto repressivo.
Esse movimento de superação do dogma da independência absoluta não é exclusivo do cenário jurídico
interno. O Direito Internacional dos Direitos Humanos reforça a exigência de coerência estatal. A Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8.4) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 14.7), ambos ratificados pelo Brasil com status supralegal, vedam expressamente a dupla persecução pelo mesmo fato. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em casos como Mohamed vs. Argentina, reafirmou que não basta o Estado alterar a roupagem institucional do processo: se há identidade fática e propósito sancionador, incide a proibição do ne bis in idem.
O Estado brasileiro, portanto, está juridicamente obrigado a exercer controle de convencionalidade, inclusive sobre os efeitos de decisões penais absolutórias que, por força desses tratados, devem irradiar efeitos nas demais esferas.
É nesse contexto que se impõe a ruptura definitiva com a cultura da multiplicação persecutória. A fragmentação do poder punitivo, longe de representar eficiência institucional, frequentemente funciona como mecanismo de opressão simbólica e de desgaste moral. Não se trata de blindar condutas ilícitas da
responsabilização devida, mas de evitar que o Estado, sob o pretexto de proteger diferentes bens jurídicos, sancione múltiplas vezes o mesmo sujeito pelos mesmos fatos, comprometendo a lógica, a equidade e a racionalidade do sistema de justiça.
Justiça não é sinônimo de repetição, mas de consistência. A coerência institucional não é uma utopia, mas um requisito mínimo de qualquer sistema que se pretenda democrático. Não se pode permitir que o mesmo Estado que absolve em uma instância, por falta de prova ou inexistência de fato, insista em manter viva a punição em outra, apenas por mudança de rótulo ou de competência. É preciso romper com o paradigma da punição em espelhos — aquela que reflete o mesmo fato em várias frentes, como se a verdade pudesse ser repartida ao gosto de quem acusa.
O Direito brasileiro já dispõe das ferramentas normativas, jurisprudenciais e convencionais para construir um modelo sancionador mais racional, proporcional e legítimo. O que falta é a prática cotidiana absorver esse movimento, transformando-o em um compromisso ético do sistema de justiça com a coerência, a proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana.
Porque, ao fim e ao cabo, não há justiça possível onde há contradição institucional.
Fernando Faria é advogado com atuação em todo território nacional, notadamente em Mato Grosso
Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do site de notícias Cuiabano News