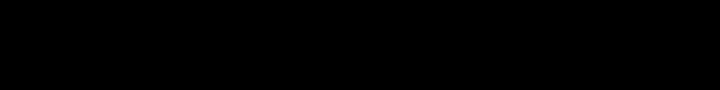Como será que um paleontólogo reagiria ao livro de Marli Walker? E um arqueólogo, o que pensaria? Digo isso porque uma densa ossada está à mostra no Jardim de Ossos. A primeira parte do novo livro de Walker é dedicada quase integralmente a palmilhar despojos que formaram sedimentos calcários. De quem são esses fósseis? Da poeta que “descama pétalas ósseas”? Ou se trata de um acúmulo de gerações sobre a ossatura da autora que se vê pesada e passada? O excesso de cálcio que imobiliza também deriva numa armadura existencial, espécie de exoesqueleto poético, carapaça para suportar as dores da vida. Os ossos pesam, é verdade, mas o que fazer sem eles?
Leia Também:
-O Inferno são os outros: Tá lá o corpo estendido no chão
Esse é o paradoxo proposto pela autora de “Jardim de Ossos”: compreender que ela mesma é o resultado de um cemitério e que para lá corre a fim de juntar sua carcaça. A inevitabilidade dessa lei biológica não impede Walker de perceber um novo uso para os ossos. A morte não se dá por imolação, mas é resultado de um combate altivo. É a beligerância da mulher que resiste e está retratada por um repertório de guerra. Muitos poemas sugerem a estruturação de armaduras para resguardar o flanco, guardar costelas, enfaixar o tórax. Exército, ração diária, facas e lanças são artefatos para Walker que pretende viver um pouco mais em meio a um campo de mortos.
Quem está sepultado? Estão nominados? Os mortos de Walker não dizem nada. Estão silenciosos ou foram silenciados. Não há um diálogo aberto e dinâmico. Despersonalizaram-se por completo. Os mortos não sussurram, não ensinam, não vivem. Achei digno de nota esse silêncio. É muito comum o protagonismo dos mortos que ensinam, advertem, exortam, julgam, ou seja, contracenam com os vivos. Em Walker, os mortos são ossos que se amontoam como único testemunho da própria extinção.
Mas os ossos são eles mesmos uma memória que se integra na medida em que são desencovados. A poeta vai se identificando e somando seu cansaço ao cansaço dos antepassados: “vou vivendo ou morrendo/ ajuntando meus destroços/ reajustando meus ossos/ numa carcaça quebrada”. Quanto mais sensível é a percepção do inexorável fim, maior a consciência de entulhamento material. Aliás, o entulho que obstrui a vida é uma imagem tão presente quanto os ossos que despontam de covas rasas.
Walker não canta mais o resultado infame e infamante do agronegócio. Os desertos verdes, a fome em meio à safra, a infância roubada no trabalho, são imagens de livros anteriores. “Jardim de Ossos” tem um viés mais existencial e proporciona uma experiência quase arqueológica. Vale a pena desenterrar os ossos que nos constituem? Para que mexer no silêncio sepultado, se nós próprios somos o cemitério do amanhã? Enquanto não plantamos os nossos ossos no chão, lutamos. Marli teima em não se entregar. O último poema é “indômita” que é a recusa até mesmo da entrega amorosa.
O que o paleontólogo não pode alcançar é o amor. O amor ainda existe nos vivos, mesmo que seja um fiapo, uma lembrança perdida na bolsa. No “Jardim dos Ossos” também há uma espécie de ossatura amorosa, quase morta. Por mais que se revire a terra para achar crânios e fêmures, eles ainda não são nossos. Por enquanto, os ossos são dos outros que, mudos, nos esperam. Walker pesquisou fósseis, desenterrou memórias, registrou despojos, mas não cedeu a voz aos mortos mal enterrados. Ainda temos tempo para falar por nós mesmos.
*EDUARDO MAHON é advogado e escritor em Mato Grosso; ex-presidente da Academia Mato-Grossense de Letras (AML). Idealizador e diretor da revista Pixé.
E-MAIL: edu.mahon@terra.com.br
CONTATO: https://www.facebook.com/eduardo.mahonii?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdlC-R-R